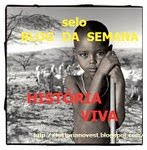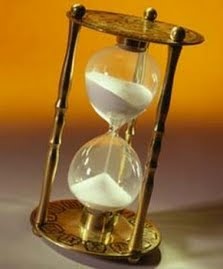A Arte Bizantina...propagação da cultura greco-romana e utilização das artes em geral para exaltar ideais religiosos numa combinação de elementos culturais do Oriente e do Ocidente.
A arte Bizantina teve seu centro de difusão a partir da cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, e desenvolveu-se a princípio incorporando características provenientes de regiões orientais, como a Ásia Menor e a Síria.
A aceitação do cristianismo a partir do reinado de Constantino e sua oficilização por Teodósio procuraram fazer com que a religião tivesse um importante papel como difusor didático da fé ao mesmo tempo que serviria para demonstrar a grandeza do Imperador que mantinha seu caráter sagrado e governava em nome de Deus.
A tentativa de preservar o caráter universal do Império fez com que o cristianismo no oriente destacasse aspectos de outras religiões, isso explica o desenvolvimento de rituais, cânticos e basílicas.
O apogeu da cultura bizantina ocorreu durante o reinado de Justiniano ( 526-565 d.C. ), considerada como a Idade de Ouro do império.
Arquitetura
O grande destaque da arquitetura foi a construção de Igrejas, facilmente compreendido dado o caráter teocrático do Império Bizantino. A necessidade de construir Igrejas espaçosas e monumentais, determinou a utilização de cúpulas sustentadas por colunas, onde haviam os capitéis, trabalhados e decorados com revestimento de ouro, destacando-se a influência grega.
A Igreja de Santa Sofia é o mais grandioso exemplo dessa arquitetura, onde trabalharam mais de dez mil homens durante quase seis anos. Por fora o templo era muito simples, porém internamente apresentava grande suntuosidade, utilizando-se de mosaicos com formas geométricas, de cenas do Evangelho.
Na cidade italiana de Ravena, conquistada pelos bizantinos, desenvolveu-se um estilo sincrético, fundindo elementos latinos e orientais, onde se destacam as Igrejas de Santo Apolinário e São Vital, destacando-se esta última onde existe uma cúpula central sustentadas por colunas e os mosaicos como elementos decorativos.
Pintura e Escultura
A pintura bizantina não teve grande desenvolvimento, pois assim como a escultura sofreram forte obstáculo devido ao movimento iconoclasta . Encontramos três elementos distintos: os ícones, pinturas em painéis portáteis, com a imagem da Virgem Maria, de cristo ou de santos; as miniaturas, pinturas usadas nas ilustrações dos livros, portanto vinculadas com a temática da obra; e os afrescos, técnica de pintura mural onde a tinta era aplicada no revestimento das paredes, ainda úmidos, garantindo sua fixação.
Destaca-se na escultura o trabalho com o marfim, principalmente os dípticos, obra em baixo relevo, formada por dois pequenos painéis que se fecham, ou trípticos, obras semelhantes às anteriores, porém com uma parte central e duas partes laterais que se fecham.
Mosaicos
O Mosaico foi uma forma de expressão artística importante no Império Bizantino, principalmente durante seu apogeu, no reinado de justiniano, consistindo na formação de uma figura com pequenos pedaços de pedras colocadas sobre o cimento fresco de uma parede. A arte do mosaico serviu para retratar o Imperador ou a imperatriz, destacando-se ainda a figura dos profetas.
 Compreensão do continente americano
Compreensão do continente americano