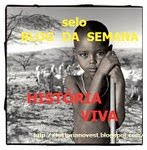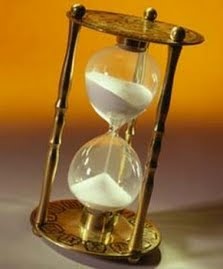A américa pré-colombiana
Acredita-se que o homem tenha entrado pela primeira vez no continente americano pelo estreito de Bering, talvez já em 35.000 a.C. Existem testemunhos da possível presença do homem já em 20.000 a.C. na região que corresponde ao México atual. No entanto, os fósseis humanos mais antigos - encontrados, por exemplo, em Tepexpan, a nordeste da Cidade do México, e em Lagoa Santa (Minas Gerais, Brasil) - não datam de período anterior a 9.000-8.000 a.C. (embora estas datações estejam mudando nos últimos anos, e datas mais antigas sejam ainda consideradas polêmicas).
A agricultura na Mesoamérica data de cerca de 5.000 a.C., e a produção de cerâmica de cerca de 2.300 a.C. Os primeiros testemunhos de sociedades dotadas de estruturas políticas e religiosas podem ser encontrados no México, nos sítios olmecas, principalmente em La Venta, e nos Andres, em Chavín, ambas datando de antes de 1.000 a.C. Por volta de 1.500 d.C., alguns Estados já mostravam economias e sociedades altamente estruturadas e culturas e religiões extremamente desenvolvidas, como o império asteca no México e o império inca nos Andes Centrais.
Além desses, aparecem 'senhorias' mais ou menos estáveis de graus variados de complexidade, por exemplo, nas ilhas do mar dos Caraíbas e na região circunvizinha, e ainda as centenas de tribos nômades e seminômades na América do Norte, no sul da América do Sul e no Brasil.
A pesquisa sobre a América pré-colombiana desenvolveu-se rapidamente nas últimas décadas do século XX, especialmente com relação à Mesoamérica, e mais recentemente também com referência aos Andes e a outras regiões.
Importantes contribuições para esse conhecimento foram dadas não só pelos arqueólogos como pelos linguistas e paleógrafos, geógrafos e botânicos, matemáticos e astrônomos, e sobretudo, pelos antropólogos, etnólogos e especialistas em etnografia histórica.
Fonte: BETHELL, Leslie (org.). América Latina Colonial. vol. 1. São Paulo: EDUSP; Brasília [DF]: Fundação Alexandre Gusmão, 1997. pp. 1-20.
Acredita-se que o homem tenha entrado pela primeira vez no continente americano pelo estreito de Bering, talvez já em 35.000 a.C. Existem testemunhos da possível presença do homem já em 20.000 a.C. na região que corresponde ao México atual. No entanto, os fósseis humanos mais antigos - encontrados, por exemplo, em Tepexpan, a nordeste da Cidade do México, e em Lagoa Santa (Minas Gerais, Brasil) - não datam de período anterior a 9.000-8.000 a.C. (embora estas datações estejam mudando nos últimos anos, e datas mais antigas sejam ainda consideradas polêmicas).
A agricultura na Mesoamérica data de cerca de 5.000 a.C., e a produção de cerâmica de cerca de 2.300 a.C. Os primeiros testemunhos de sociedades dotadas de estruturas políticas e religiosas podem ser encontrados no México, nos sítios olmecas, principalmente em La Venta, e nos Andres, em Chavín, ambas datando de antes de 1.000 a.C. Por volta de 1.500 d.C., alguns Estados já mostravam economias e sociedades altamente estruturadas e culturas e religiões extremamente desenvolvidas, como o império asteca no México e o império inca nos Andes Centrais.
Além desses, aparecem 'senhorias' mais ou menos estáveis de graus variados de complexidade, por exemplo, nas ilhas do mar dos Caraíbas e na região circunvizinha, e ainda as centenas de tribos nômades e seminômades na América do Norte, no sul da América do Sul e no Brasil.
A pesquisa sobre a América pré-colombiana desenvolveu-se rapidamente nas últimas décadas do século XX, especialmente com relação à Mesoamérica, e mais recentemente também com referência aos Andes e a outras regiões.
Importantes contribuições para esse conhecimento foram dadas não só pelos arqueólogos como pelos linguistas e paleógrafos, geógrafos e botânicos, matemáticos e astrônomos, e sobretudo, pelos antropólogos, etnólogos e especialistas em etnografia histórica.
Fonte: BETHELL, Leslie (org.). América Latina Colonial. vol. 1. São Paulo: EDUSP; Brasília [DF]: Fundação Alexandre Gusmão, 1997. pp. 1-20.